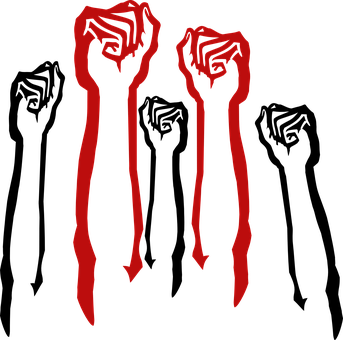Mania clássica dos produtores de filmes e, principalmente, de séries: pegarem um personagem ou um fio narrativo no qual a audiência mostrou remoto interesse e PIMBA! tacar spin-off – uma mudinha da história original, um ramo que se destaca e bota as próprias raízes. Não que eu esteja dizendo qualquer novidade, óbvio; todo mundo que não habitou um quarto do pânico instalado em Verkhoyansk no decorrer das últimas décadas conhece perfeitamente a lógica da spin-offerie, e provavelmente já andou dando espiadas em algum Fear the walking dead, Better call Saul ou qualquer dos 8.934 CSIs, 6.907 NCISs e 15.642 Law & orders soltos nesse mundão sem porteira. Faz parte da experiência humana na Terra. Parece que agora é de Supernatural que vão construir um puxadinho, contando, se bem compreendi, a história dos pais dos protagonistas; entantomente, como jamais assisti a um só episódio da produção-tronco, não sou capaz de opinar. Estimo felicidades ao casal.
O que eu bem queria era – imaginem se! – a possibilidade redondinha de spin-offar coisas da vida real, desfiar enredos cá do nosso lado da tela e transformar em novos, com CEP ou CPF seu, todo seu, reinauguradamente seu. Montar um derivado do Rio de Janeiro, por exemplo; hein? Que lindo seria, numa versão em que os contrastes morro/asfalto se vissem eliminados – não como padronização, absolutamente, mas como equidade, como chance de recomeço do jogo, com gente de todas as classes (em havendo classes, que eu preferira eliminadas) povoando de maneira aleatória do Méier ao Leblon, da Gávea ao Alemão, de Realengo a Laranjeiras, da Barra ao Borel. Nada de tráfico, nada de milícia nessa releitura, que teria seu plot enraizado em tudo que fosse a alma da cidade, porém devidamente apurado e enfrascado como uma essência: o funk, o samba, o biscoito Globo, o carro do ovo, o olha-o-mate, os artistas adoçando o metrô, o subúrbio com cadeira na calçada, a feira de São Cristóvão, a Cinelândia, a Saens Peña, a Lapa, o Maraca, o doce balanço a caminho do mar. A irmandade, enfim – que era a vocação e o destino da cidade cuja baía tem jeito de abraço, cujo símbolo maior já o tem pronto. Não se deveria conceber que outra arma no Rio, do Rio, estivesse sempre engatilhada.
Ah, que delícia spin-offar também a Amazônia, deixando apenas o núcleo ecológico-indígena e cortando sumariamente todo o elenco grileiro, garimpeiro, madeireiro, fazendeiro. Spin-offar – e aqui volto rendida à ficção, que já cumpri o penoso expediente fora dela – meu Fantasma da Ópera, o musical, não o livro (e não, aquela continuação não basta), atirando enfim, nos braços do gênio recluso, a ocasião de ser amado inteiramente; pra-sempremente. Spin-offar Romeu e Julieta, acompanhando o desenvolvimento de várias famílias surgidas de casamentos Montecchio-Capuleto, depois de a desgraceira dos amantes originais inspirar o fim (embora ramerramento e custoso) da pendenga entre os dois sobrenomes. Aliás, que tal estabelecer o contrário do mote célebre e querer OBRIGAR jovens de ambas as casas – ele, agora, um Capuleto, e ela uma Montecchio – a casar-se para teoricamente selar um contrato e uma paz? Se alguém já teceu algo a partir desse fio invertido, perdoe de coração: realmente não pesquisei; se ainda não desbravaram trilha similar, olha que eu acho que dá um caldo. Depois me chamem para a prèmiere no coliseuzinho de Verona.
Geram spin-offs as irmãs ainda solteiras de Elizabeth Bennet em Orgulho e preconceito, a Penelope Garcia de Criminal minds, as mães biológica e adotiva de Beth Harmon nO gambito da rainha, um possível filho – ou, de preferência, filha – de Amélie Poulain e Nino, a looooonga vida de Paul Edgecomb em À espera de um milagre, as aventuras de Arya Stark pós-Game of thrones. Não sou fã de sequências, admito; porém, tomando como esperança e bandeira os dois últimos desdobramentos de Toy story – obras-primas doces, engraçadas, filosóficas bem superiores, até, a seu ponto de partida –, concebo que roteiristas mui veneradores e mui respeitosos possam, aprochegando-se com delicadeza, honrar o fato de que não faltam histórias férteis em paralelâncias, prequels, transversais, continuação.
(Só as boas histórias. Ele – pelo amor de todos os nossos futuros! – não.)