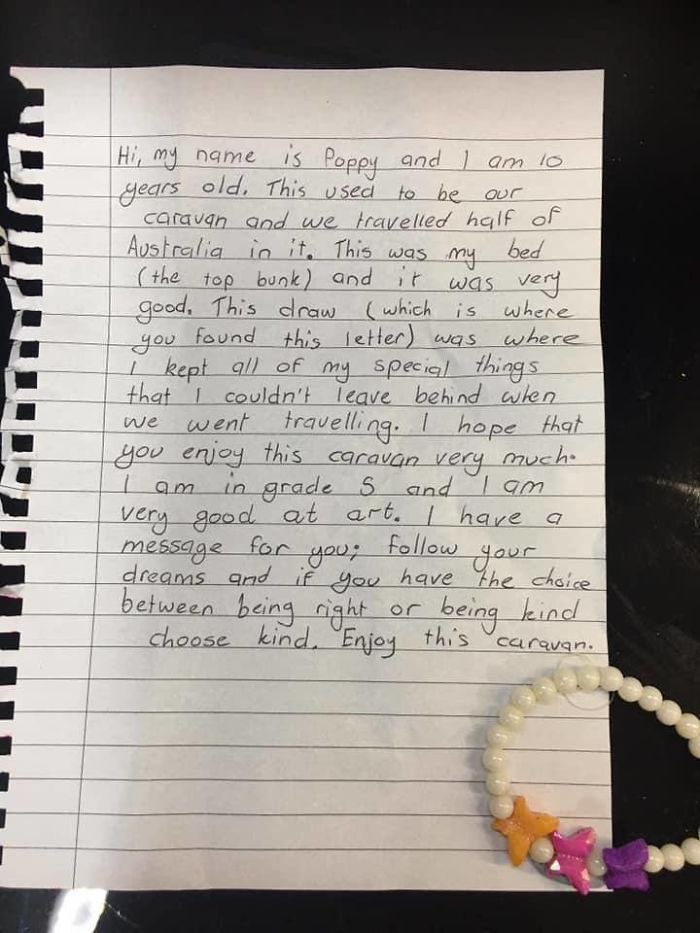"Papai, mamãe está machucada na cabeça", ficou repetindo o filhinho de três anos da jovem Ana Cristina da Silva, que, na última quarta-feira, morreu atingida por dois tiros no meio de uma guerra entre bandidos do Complexo de São Carlos (Centro do Rio de Janeiro – sempre este nosso fabuloso Rio de Janeiro). Surpreendida pelo tiroteio quando ia para o trabalho, Ana Cristina pediu para entrar com seu garotinho no carro de uma mulher que vinha passando; entrou e escudou o filho, envolvendo-o com o próprio corpo, o que provavelmente foi decisivo para a sobrevivência da criança, uma vez que os bandidos atiraram no veículo logo em seguida. A mãe de 25 anos protegeu, mas não conseguiu proteger-se – nem ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, que ainda não chegara ao local uma hora após ser acionado pela família. Moradores da comunidade, por conta própria, levaram a moça para o hospital Souza Aguiar. Era dolorosamente tarde; Ana tinha derramado muito sangue por e sobre seu pequenino, que (no momento em que escrevo) ainda pergunta se mamãe está bem e a que horas volta.
Olha. Se alguém lê isso no jornal e continua com o coração inteiro, está tendo coração de maneira MUITO errada.
Não sou mãe, mas creio que não é preciso sê-lo para sentir em cada osso as várias orfandades envolvidas na tragédia: a de Ana Cristina, duplamente desamparada pelo Estado (que falhou em guardar seu menino sem que ela tivesse de recorrer ao autossacrifício, e falhou em evitar que esse sacrifício se tornasse irreversível); a do companheiro de Ana, submetido à dor viúva de ver crescer sozinho o filho com o qual ela tanto sonhou (e de vê-lo lancinantemente chamar pela mãe, e de saber-se também responsável por ajudar um serzinho tão pequeno a lidar com a dimensão do acontecido); a da própria criança, evidentemente vitimizada por uma enormidade de perda que logo lhe será manifesta, e que a atravessará por toda a vida. Não há palavra ou lágrima que chegue; não há – como diria Forrest Gump – "pedras suficientes" para atirar nessa fonte de dor. Há um combão de ausências que só não arde com mais força do que a força de presença das mães, em especial das mães brasileiras, a quem não chamo de guerreiras do caos apenas para não romantizar o sofrimento que se veem obrigadas a encarar pelas circunstâncias. Mas que são – são.
Ana Cristina morreu para proteger seu filho. A mãe de Ágatha Félix viu morrer sua filha sem que pudesse protegê-la. A mãe de Miguel viu seu filho praticamente morto sem que ninguém lhe tivesse dado proteção. A mãe de João Pedro quase nunca mais viu o corpo de seu filho morto – e morto dentro de casa, onde o considerava protegido. Uma senhora que outro dia dava depoimento num episódio do programa Sem rastro, no AXN, contava sobre sua saga de nunca mais saber do filho vivo nem morto, e de procurá-lo, procurá-lo, procurá-lo incessantemente há 17 anos, largando do serviço às 15h, perambulando e panfletando cartazes de desaparecido pelas ruas até o último ônibus à meia-noite, acordando cedíssimo para estar no trabalho às 7h no dia seguinte, repetindo, repetindo. Não sou mãe, reitero, mas acho impossível não sangrar junto com as mães brasileiras, machucadas incessantemente na cabeça, no coração, na dignidade, na memória; mães aos milhões que não contam com pais assumindo a coautoria dos filhos, mães solo que deixam de receber auxílio emergencial porque os genitores ausentes se inscreveram como beneficiários, mães que se tornam elástico entre empregos para ocupar todos os espaços vazios dentro e fora da certidão de nascimento, mães que mantêm a alma em suspenso e suspense enquanto os filhos (sobretudo os filhos negros da periferia) não voltam do mercado, do colégio, da balada. Mães que se fazem mil para afastar seus jovens tanto dos policiais como dos bandidos, mães que dedicam a vida a limpar a reputação de seus adolescentes levianamente acusados de crimes por supostos agentes da ordem que desejam encobrir assassinatos. Se há gente mais raçuda, resiliente, resoluta do que essas mães que conhecem todas as formas de dar a vida, ignoro. Falar delas é o pouquíssimo que posso para honrá-las e abraçá-las. Falar com elas é coisa de um instantezinho suficiente para dizer: mães, não é que a Força meramente esteja com vocês. Vocês são a Força.
Segundo o filhinho de Ana Cristina, sua mamãe é uma super-heroína que o protegeu dos tiros. Está certíssimo. Seus inocentes três anos nem sabem o quanto ele está certo. Não era para estar; não era para que absolutamente ninguém carecesse ir além de nenhum limite e nenhum dever porque outros foram além de seus limites e direitos; muito, muito, muito, muito, muito infelizmente Ana teve de ser o escudo que a segurança pública não foi, e muito infelizmente não há como trazer de volta esses heróis da vida real num estalar de dedos. O mínimo que se espera é a máxima justiça humana possível para cada vítima.
O mínimo que se espera é que cada uma seja a última.